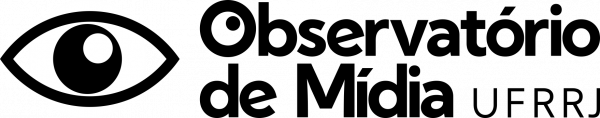“Jornalismo é batalha: batalha por espaço, batalha por mudança, batalha por viés de notícia”. A frase é do jornalista Tiago Barbosa, escritor e articulista independente que fala sobre política, sociedade e imprensa nas redes sociais e, eventualmente, nos canais Brasil 247 e Diário do Centro do Mundo.
Em entrevista à equipe do Observatório, ele expôs a importância da crítica de mídia num cenário em que os veículos hegemônicos não cumprem com o que acredita ser o principal papel do jornalismo: a busca por justiça social. Veja o bate-papo completo:
O que motivou você a fazer crítica de mídia?
Hoje, vivemos um período muito difícil no jornalismo. A gente tem um campo que trabalha como porta-voz de um segmento privilegiado da população, de uma parte elitista que está nos círculos de poder. E isso acaba ferindo a essência da profissão – que deve ser, justamente, a prática de informar, de subsidiar a população com conteúdos que podem gerar uma melhoria de vida, de forma a contribuir para uma justiça social. O jornalismo brasileiro faz o inverso disso: atua como um normalizador de injustiças. Ele replica a ordem que foi formatada para manter as coisas como estão e tenta fazer com que isso seja natural.
Desde o meu tempo de estudante, sempre gostei muito de ler sobre jornalismo. Inclusive, acho que isso deveria ser uma prática comum entre os profissionais ou estudantes da área, porque, às vezes, a gente normaliza práticas que não devem sequer ser toleradas. Então, eu valorizo muito a crítica de mídia. Gosto de fazer esse exercício até para tentar gerar uma mudança ou uma reflexão em torno daquilo que pratico.
O que você enxerga como justiça social dentro do jornalismo?
A imprensa reforça a desigualdade da seguinte forma: naturaliza o privilégio de uns não serem violentados e a ação truculenta contra outros que, por serem quem são, deveriam ser violentados. E o jornalismo tem a função de retratar isso, de mostrar como essa injustiça acontece, para que essa situação seja revertida e a população chegue ao nível da igualdade em direitos.
Vamos falar sobre a cobertura de operações policiais nas favelas, por exemplo. Digamos que uma dessas ações acabou matando um morador, em geral, pobre, negro e marginalizado. O jornalismo, quando vai reportar esse tipo de coisa, assume a versão policial e procura encontrar elementos que, de alguma forma, incriminem a vítima. É comum ver, no noticiário, se aquela pessoa tinha ou não tinha antecedentes criminais – como se esse fato fosse justificativa para ser assassinado.
A gente estranharia muito se assistisse, no jornal, que policiais entraram num bairro rico e saíram atirando em empresários, colocando famílias para fora… Isso só acontece nas comunidades pobres. E o jornalismo, em vez de apontar essa discrepância, naturaliza – o que faz com que parte da população seja inferiorizada diante daqueles que não são afetados por essa prática. É aí que entra a justiça social.
Eu acho que a função do jornalismo é, justamente, caminhar em busca desse ideal. E isso vai desde a escolha da pauta, o modo de formatar a notícia para o público, o peso que esse veículo dá a essa matéria diante das outras, a forma de dar os desdobramentos do fato.
Na cobertura policial mesmo se atribui a morte de pessoas periféricas a balas perdidas – ou seja, a ações sem autores; a invasão da polícia às casas é chamada de “operação” – palavra que pressupõe um planejamento -, quando, na verdade, você não pode entrar na residência de uma pessoa sem mandado. E, no noticiário, não há menção à palavra “tortura”, “ataque” ou “violência”. Toda essa conceituação é suprimida quando acontece de um lado. Já do outro, não.
O jornalismo deve estar, nesse momento, do lado da pessoa ou do grupo que está sendo oprimido. Porque a ordem natural já pressupõe a dominação de quem tem dinheiro sobre quem vive numa situação de pobreza. Quando o jornalismo se mantém neutro, está adotando uma posição favorável à manutenção desse princípio. Então, nós temos o dever de nos colocarmos do lado dessas pessoas injustiçadas para demonstrar como a sociedade está procedendo ou aceitando essas práticas. Um jornalista tem que buscar justiça social, enfatizar os direitos humanos e buscar equidade. Mas aí é uma coisa bem distante, né?
Geralmente, entramos na faculdade com uma visão mais romântica do jornalismo, acreditando nessa tal “neutralidade” tão falada. Mas, com o tempo, percebemos que essa objetividade total não existe. Esse momento também chegou para você? Como foi a sua virada de chave nesse sentido?
Quando eu deixei de ser romântico? (risadas).
Tem um problema de formação no jornalismo. Ele não pode representar uma imagem muito romântica, nem muito pragmática. Eu defendo muito o caminho do meio. A dificuldade não está, necessariamente, nessa idealização do que é a profissão e, sim, na falta de preparo para executar isso durante o trabalho. A universidade se preocupa muito com a questão teórica sem conectar os ensinamentos com a prática, e eu percebi isso na minha época. Então, primeiro, é preciso perceber essa falha na formação, o que não acontece.
Segundo, é a perceber que não é uma idealização somente em relação à profissão, mas também em relação à vida. Eu acho que falta para o jornalista uma percepção prática da realidade, porque jornalismo não é descolado disso. Então, o profissional tem que saber que ele vive numa sociedade capitalista, que as relações políticas são permeadas por essa questão do dinheiro, assim como as relações familiares e de trabalho. Se ele percebe isso dentro do dia a dia, fica claro que, na prática, essa idealização não pode existir em nenhum segmento.
Para responder a sua pergunta, eu não tinha muito essa noção idealizada do jornalismo, de achar que teria a liberdade de escrever para mudar o mundo com um texto. Isso era uma ideia que eu achava falsa em relação à vida mesmo, porque, na realidade, não é uma “tacada” só e tudo se resolve. É no dia a dia, com os pequenos textos, as disputas de narrativa que você tem no WhatsApp com um parente, as conversas que você tem com outros colegas jornalistas que veem uma certa questão por um ângulo diferente, a negociação com o editor-chefe para veicular uma certa informação…
Então, essa questão de virar a chave, pra mim, foi uma continuidade de um processo que eu já percebia na faculdade em relação ao que eu consumia do jornalismo. Eu não via nenhum conteúdo como algo idealizado, nem como uma coisa puramente pragmática. E aí, quando fui para o mercado, não teve uma virada, mas aquela sementinha de vontade de mudar as coisas nunca sumiu.
Até nas matérias mais simples do dia a dia, um problema em comunidade, por exemplo. Se você produz isso direitinho, sua prática jornalística carrega um poder de mudança. Com cada coisinha que você faz dá para perceber que consegue, ou pelo menos tenta, contribuir para uma mudança social. Jornalismo é batalha: batalha por espaço, batalha por mudança, batalha por viés de notícia.
Se pudesse trazer alguma coisa da mídia hegemônica para o jornalismo crítico, o que seria? E algo para enviar?
Um fato me chamou bastante atenção: quando começou a subir o preço da carne, a mídia hegemônica começou a mostrar que dava para substituí-la pelo ovo. Vi uma matéria que dizia o seguinte: “até quando você pode comer um alimento depois de passar o prazo de validade?” – ou seja, literalmente, o jornalismo estava recomendando que as pessoas comessem alimentos estragados para poder encobrir o aumento do preço da carne e o empobrecimento da população. Esse segmento tenta tornar vantajosa uma situação de injustiça e disfarça, deliberadamente, uma política de concentração de renda e de desigualdade social.
Então, qual seria a abordagem correta? Mostrar que o preço está alto porque o governo atual adota certas políticas que tiram dinheiro daqui (comida) e colocam ali, o que favorece aquele segmento (rico) e não esse (pobre). O estímulo a essa consciência faz com que as pessoas percebam a situação em que elas estão e entendam que, realmente, não é justo comer osso no país que mais produz comida no mundo. Na nação campeã em exportação de soja, de proteína animal, tem gente na fila do osso? Tem gente comendo comida estragada? E está lá a imprensa defendendo isso.
Fazer a situação inversa é mais difícil, mas tem uma coisa que a mídia hegemônica tem e a independente não: um financiamento sustentável para grandes produções. Se estamos falando de veículos subordinados a quem tem dinheiro, é óbvio que vai ter financiamento. É difícil fazer jornalismo, requer dinheiro, requer investimento – principalmente se for para reportagem de fôlego ou para manter um quadro de analistas, como tem sido recorrente nos canais progressistas. E de onde vem esse financiamento? É do público.
Para um jornalista, perceber a classe social a que pertence é muito importante. No mercado, vira-se a chave ao contrário: o cara vai para dentro da empresa jornalística e acha que é a empresa. Ele vai para a Globo, por exemplo, e acha que é a Globo; defende o que os donos da empresa, mas não é um dos donos. Ele não consegue se enxergar e, por isso, também não se identifica com pessoas iguais a ele. É importante o jornalista acordar para saber quem ele é, em que mundo ele está; observar a vizinhança de onde ele mora, que, provavelmente, tem moradores de rua ou pessoas passando por necessidades – e saber que ele está mais perto daquilo ali do que dos “Marinhos”.
Existem caminhos para resgatar a credibilidade do jornalismo?
Eu acho que existem e os veículos independentes já fazem um pouco isso. Expor os “erros” do jornalismo já é um caminho para recuperar a credibilidade. Na última década, a gente teve esse apoio incondicional à Lava Jato, por exemplo, um jornalismo que abraçava tudo que vinha lá do Sérgio Moro, do Dallagnol, etc. Era útil para o grupo que estava no poder desconsiderar as práticas ilegais, porque tinha um propósito. E a mídia independente sempre disse: “olha, isso é uma operação criminosa, que está mirando num projeto de poder, no enriquecimento pessoal de determinados grupos”. E, dez anos depois, onde estão esses personagens? Um foi cassado como ficha suja, o outro está aí para ser cassado. E aquela mídia independente que falava aquilo estava certa. Esse questionamento da autoridade da grande imprensa é útil e reforça a credibilidade.
Agora, vai demorar para essas empresas recuperarem a confiança da sociedade, porque, enquanto a mídia direcionava as pautas naquele período, criou-se um grupo que foi se distanciando progressivamente da observação crítica da realidade para formar um movimento político que, simplesmente, ignora tudo que é noticiário, seja da mídia hegemônica, seja da progressista. Eu estou me referindo, basicamente, ao bolsonarismo, que criminaliza esses veículos de mídia a tal ponto que os seus seguidores o descartam completamente para fazer parte de um ecossistema próprio de notícias falsas.
E aí, a situação ficou muito pior: de um lado, estão os progressistas, que duvidam desses veículos de notícia naturalmente por causa do viés pró-mercado que eles apresentam; do outro, os extremistas, que já não consomem esse tipo de conteúdo. Eu participava de muitos grupos bolsonaristas para poder observar a dinâmica, e você vê o seguinte: eles não têm contato com a mídia de nenhuma forma, nem para dizer “ah, isso está errado, isso está enviezado”. Tudo o que eles consomem vem única e exclusivamente dos grupos de WhatsApp e dos canais que eles seguem.
Então, vai ser necessário um trabalho de renovação. Eu acho que a credibilidade passa pelo fortalecimento de grupos de mídia independente, pela capacidade dela se financiar e ter força para poder contestar e criar um novo um olhar. Inclusive, quando esse segmento se fortalecer, vai forçar o grupo hegemônico a, pelo menos, ver que não dá para fazer qualquer tipo de coisa em defesa de seus interesses.
Falando em fake news, a maior parte delas são veiculadas na internet e, ao mesmo tempo que a rede cria um ambiente propício para essa disseminação, também permite a formação de novos canais de resistência contra-hegemônica. Como você enxerga essa relação?
Da época em que eu me formei para agora, uns 20 anos depois, essa questão da internet mudou muito. Antes, a gente só tinha a mídia hegemônica. Sobre tudo o que se falava, você podia até debater no seu círculo, mas não conseguia reunir muitas pessoas em torno de uma observação crítica que fugisse daquilo que estava sendo colocado. A internet vem com esse aspecto positivo de dar mais liberdade e visibilidade para que as pessoas, que antes não tinham, passassem a ter voz. Mas aí, a gente tem um problema: a criação de um ecossistema próprio de informações que é abastecido, basicamente, por notícias falsas, ideologicamente construídas para gerar um efeito político de alienação.
Eu acho que a questão das fake news só será resolvida quando houver uma atuação forte do Estado para regulamentar esses posts na internet e criar algum tipo de normatização que puna (os responsáveis pela) circulação desse conteúdo – principalmente quando ele for ofensivo, violento e enganoso a ponto de provocar efeitos reais sobre a sociedade. Não é censura, mas sim não deixar o “vale-tudo”. Agora, essa vai ser uma batalha muito difícil, porque os donos dos grandes canais de comunicação, em geral, são aliados à direita ou à extrema direita que, por sua vez, é o espectro político onde estão as pessoas que têm dinheiro e privilégios. Não é que o conteúdo falso circule livremente porque é difícil de controlar, mas sim por ter a conivência dessas plataformas.
Nós (veículos de mídia independente) precisamos estar lá, porque queremos informar de forma útil para as pessoas e fazer um debate honesto; mas, ao mesmo tempo, sabemos que estamos no campo adversário, já que os donos dessas plataformas têm o controle absoluto sobre tudo o que a gente posta. Existem estudos, por exemplo, que mostram que o Facebook foi determinante para a ascensão da extrema direita; que o algoritmo do Twitter favorece as pautas conservadoras. Então, eles têm essa capacidade de controle dos conteúdos publicados.
Eu vejo mais um campo de batalha social que a gente tem que desbravar. Mas é uma luta muito difícil, porque é como se você estivesse na casa do oponente – com as regras dele, com as limitações que ele impõe, com o benefício que ele dá às pessoas que fazem exatamente o contrário do que você faz. A circulação de informação falsa dá muito dinheiro, porque a monetização dessas postagens é muito mais fácil por conta do alto engajamento. E as fake news têm aquela sedução da facilidade do conteúdo, de acreditar numa conspiração. E, quando esses posts encontram pessoas que não estão acompanhando o noticiário nem têm visão crítica da sociedade, pega e “vai se embora”.
Ainda nesse campo das fake news, queríamos saber se você já passou por alguma situação em que algum tipo de informação falsa atrapalhou o seu trabalho.
Antes, a gente tinha muito boato – que era diferente de fake news porque podia ser facilmente desmascarado. E essa prática estimulou as redações a aumentar o rigor na apuração e aprender a identificar não só o que está sendo dito, mas o que está sendo escondido para que aquela notícia leve a um determinado resultado. Algumas construções de notícia, às vezes, são tão ou mais prejudiciais que as fake news, construídas por um viés que te leva a falar ou a debater aquele assunto sem perceber que está reproduzindo o tema por um ângulo.
Vou dar um exemplo: todo o Governo Bolsonaro, ali por volta de 2018 ou até antes, sempre teve o apoio perceptível dos militares. Mas, agora que foram descobertos indícios muito fortes dessa trama golpista – tem a minuta do golpe, a reunião… -, a mídia está criando uma narrativa que separa o Bolsonaro dos militares e faz com que as Forças Armadas não sejam incriminadas. Essa distorção da realidade é tão grave quanto as fake news, porque gera um resultado, uma manutenção da situação vigente.
As fake news surgem como pauta para poder distorcer uma realidade e gerar um debate que não deveria nem existir. Por exemplo, de repente a gente está aqui falando sobre a situação política da Venezuela como se fosse a coisa mais importante do mundo. Aí você percebe: “porque eu estou falando tanto da Venezuela? Eu não tenho nada com esse país, não conheço ninguém de lá, eles não devem nada a gente e nem a gente a eles”. Do nada, você entende que está há vários dias discutindo sobre a Venezuela com o seu vizinho, o seu pai, o seu tio… E aí, se pergunta: “pera aí, por que eu estou falando tanto sobre a Venezuela?” Pronto, isso é importante!
Então, são criadas questões morais para introduzir um assunto, uma percepção sobre algo, que serve a um plano muito bem construído, a um interesse político. E vai dar muito trabalho para desfazer os conceitos dessas adulterações da realidade, porque conseguiram criar, na cabeça de algumas pessoas, a incapacidade de enxergar quem elas são e onde elas estão. Essas distorções criadas pelas fake news exigem um trabalho árduo para serem desfeitas.
Agora, a nossa última pergunta: qual a importância de analisar a cobertura da mídia em momentos de crise, como durante o “conflito” entre Israel e Palestina?
É essencial, porque a análise do papel da mídia, em determinadas situações, serve para evitar a continuidade de práticas que estão adulterando a realidade para gerar uma percepção positiva de segmentos que, na verdade, fazem exatamente o oposto daquilo que está sendo dito. Então, a crítica sobre mídia tem a função de enfrentar esse discurso, que muitas vezes faz parte de uma propaganda. Ao quebrar essa narrativa, conseguimos produzir um entendimento melhor sobre o assunto, estimular o senso crítico em relação àquela situação e, no caso da cobertura de Israel, perceber o quanto esse conflito pode guardar paralelos com outros momentos históricos.
Por exemplo, na cobertura da guerra, você vê que a invasão do exército israelense aos territórios palestinos é chamada de “operação de defesa” – e a mídia brasileira compra e reproduz esse discurso. Não são as forças de defesa, é um exército invasor; a expulsão dos palestinos dos territórios é vista como uma estratégia militar, não como uma prática característica de genocídio; a morte predominantemente de mulheres e de crianças não é mostrada com a gravidade que merece. Então, quando apontamos os erros de uma cobertura com viés muito forte, nesse caso, pró-Israel, estamos tentando fazer com que as pessoas percebam que a realidade está sendo distorcida. E, da mesma forma que essa mídia faz isso lá no conflito em Gaza, faz aqui também.
A imprensa brasileira é profundamente antipopular e antinacional, colonizada por uma visão estrangeira – esse viés adotado na cobertura do conflito de Israel, por exemplo, é o mesmo assumido pelos Estados Unidos. Essa mídia que normaliza a brutalidade de um exército extremamente bem equipado e considera a vida dos palestinos sem importância é a mesma que julga a vida da população favelada, também, sem importância.
Então, daí a relevância da crítica de mídia, porque, quando você denuncia essa prática em relação àquilo que acontece lá fora, também está denunciando em relação ao que é exercido aqui dentro. Para mim, a importância da crítica de mídia é, justamente, mostrar como a leitura enviesada da realidade tende a gerar uma percepção social errada, que leva as pessoas a normalizarem situações de injustiça. E saber que jornalistas fazem isso de maneira acrítica, completamente em sintonia e subserviente ao patrão, é péssimo para nossa categoria, é péssimo para o que a gente sonhou em ser. Essa era a chave que deveria virar um dia!
Por Camille Faria, Gabriel Cosendey e Yasmin Daflon, sob orientação da professora Ivana Barreto.